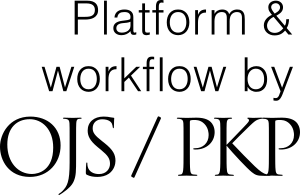“Camarão que dorme a onda leva”: ponderações éticas sobre o trabalho de campo em contextos perigosos
DOI:
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v26i1p385-407Palavras-chave:
ética de pesquisa, trabalho de campo, etnografia, periferiaResumo
A partir do relato de uma situação extrema – de violência e ameaça direta à vida – experimentada no curso de uma etnografia, pretendo neste texto abordar questões metodológicas e éticas mais amplas inerentes à dinâmica de trabalho de campo. Exploro, entre outros pontos, a introdução (neste caso, indevida) de dispositivos fotográficos durante a observação participante e os desdobramentos deste episódio na produção dos dados e na conformação da investigação de modo geral. Argumento que diante da violência que permeia a cidade contemporânea, e a que necessariamente – com níveis de risco variados – os estudiosos estão expostos nas chamadas pesquisas in loco em contextos marcados pela criminalidade (como favelas dominadas pelo tráfico de drogas), é fundamental discutirmos medidas que possam vir ao auxílio dos mesmos, seja para não comprometer a realização do estudo, seja, principalmente, para salvaguardar sua integridade física e psíquica.
Downloads
Referências
BIONDI, Karina. Uma ética que é disciplina: formulações conceituais a partir do ‘crime’ paulista. Revista Fevereiro - Política, Teoria, Cultura, [s.l.], v. 10, p. 304-319, 2018.
BOURGOIS, Philippe. Confronting anthropological ethics: ethnographic les-sons from Central America. Journal of Peace Research, London, v. 27, n. 1, p. 43-54, 1990.
CASTILLO, Lisa Earl. A fotografia e seus usos no candomblé da Bahia. Pon-tos de Interrogação, v. 3, n. 2, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/ index.php/pontosdeint/article/view/1579/1040>. Acesso em: 10 out. 2015.
DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Políticas. In: ______. Diálogos. Lisboa: Relógio D’Água, 2004. p. 151-176.
EMERSON, Robert M.; FRETZ, Rachel I.; SHAW, Linda L. Writing ethno-graphic fieldnotes. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2011.
FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. Cadernos de Campo, São Paulo, v. 13, n. 13, p. 155-161, 2005.
FELTR AN, Gabriel de Santis. Trabalhadores e bandidos: categorias de nomea-ção, significados políticos. Te m á t i ca s, Campinas, v. 15, p. 11-50, 2007. Dis-ponível em: <http://neip.info/novo/ wp-content/uploads/ 2015/04/anexo--2-temticas.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2015.
FONTES, Larissa Yelena Carvalho. A dádiva do segredo: a negociação do segre-do ritual nas religiões afro-alagoanas. 2015. 122 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - Universidade Federal da Bahia, Salvador.
FRANÇA, Isadora Lins. Um mapa da pesquisa. In: ______. Consumindo luga-res, consumindo nos lugares: homossexualidade, consumo e subjetividades na cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 25-73.
GAMA, Aline; PEIXOTO, Clarice. Identidades em movimento: uma etnogra-fia em contexto de violência. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 60, n. 3, p. 186-210, 2017.
GOLDMAN, Marcio. Alteridade e experiência: antropologia e teoria etnográ-fica. Etnográfica, Lisboa, v. 10, n. 1, p. 161-173, 2006.
GOLDSTEIN, Donna M. Perils of witnessing and ambivalence of writing: whiteness, sexuality, and violence in Rio de Janeiro shantytowns. In: HUGGINS, M. K.; GLEBBEEK, M-L. (Eds.). Women fielding danger: nego-tiating ethnographic identities in field research. New York: Rowman & Littlefield, 2009. p. 227-249.
INGOLD, Tim. Chega de etnografia! A educação da atenção como propósito da antropologia. Educação, Porto Alegre, v. 39, n. 3, p. 404-11, set./dez. 2016.
JANSSON, André. Indispensable things: on mediatization, materiality, and space. In: LUNDBY, K. (Ed.). Mediatization of Communication. Berlin, Bos-ton: Mouton de Gruyter, 2014. p. 273-295.
MARQUES, Adalton. Do ponto de vista do “crime”: notas de um trabalho de campo com “ladrões”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 22, n. 45, p. 335-367, jan./jun. 2016.
MINTZ, Sidney W. Encontrando Taso, me descobrindo. Dados, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 45-58, 1984.
NILAN, Pamela. ‘Dangerous fieldwork’ re-examinated: the question of re-searcher subject position. Qualitative Research, [s.l.], v. 2, n. 3, p. 363-386, 2002.
OPIPARI, Carmen; TIMBERT, Sylvie. O artifício da imagem na construção do real. In: FERR AZ, A. L. C; MENDONÇA, J. M. de (Orgs.). Antropologia visual: perspectivas de ensino e pesquisa. Brasília: ABA, 2014. p. 371-406.
PERITORE, N. Patrick. Reflections on dangerous fieldwork. The American So-ciologist, [s.l.], v. 21, n. 4, p. 359-372, dec. 1990.
PERLONGHER, Néstor. Antropologia das sociedades complexas: identidade e territorialidade, ou como estava vestida Margaret Mead. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 8, n. 22, jun. 1993.
RABELO, Miriam C. M. Aprender a ver no candomblé. Horizontes Antropológi-cos, Porto Alegre, ano 21, n. 44, p. 229-251, jul./dez. 2015._
RABELO, Miriam C. M. Considerações sobre a ética no candomblé. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 59, n. 2, p. 109-130, 2016.
ROCHA, Rosamaria Luiza de Melo. Uma cultura da violência na cidade? Rup-turas, estetizações e reordenações. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 85-94, jul./set. 1999. ROGERS-BROWN, Jennifer B. More than a war story: a feminist analysis of doing dangerous fieldwork. In: DEMOS, V.; SEGAL, M. T. (Eds.). At the center: feminism, social science and knowledge. London: Emerald, 2015. p. 111-31.
SAMPSON, Helen; THOMAS, Michelle. Lone researchers at sea: gender, risk and responsability. Qualitative Research, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 165-89, 2003.
SHARP, Gwen; KREMER, Emily. The safety dance: confronting harassment, intimidation, and violence in the field. Sociological Methodology, [s.l.], v. 36, p. 317-27, 2006.
SILVA, Cíntia Vieira da. Combater e compor: dilemas do agir em uma leitura deleuziana de Espinosa. Princípios, Natal, v. 19, p. 457-481, 2012.
SLUKA, Jeffrey A. Reflections on managing danger in fieldwork: dangerous anthropology in Belfast. In: ROBBEN, A. C. G. M.; SLUKA, J. A. (Eds.). Ethnographic fieldwork: an anthropological reader. Oxford: Blackwell, 2007. p. 259-68.
TELLES, Vera. Itinerários da pobreza e da violência. Sexta-Feira, São Paulo, n. 8, p. 106-110, 2006.
VILLANI, Maycon Lopes. Para não ser uma bicha da favela: uma etnografia so-bre corpo, sexualidade e distinção social. 2015. 146 f. Dissertação (Mestra-do em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador.
WACQUANT, Löic. Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significa-do da pobreza. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1985.
ZALUAR, Alba. Juventude violenta: processos, retrocessos e novos percursos. Dados, Rio de Janeiro, v. 55, n. 2, 2012, p. 327-65.autorMaycon LopesÉ bacharel, mestre e doutorando em Ciências Sociais pela Uni-versidade Federal da Bahia, além de membro do Núcleo de Es-tudos em Ciências Sociais, Ambiente e Saúde (ECSAS).
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2018 Cadernos de Campo (São Paulo, 1991)

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Autorizo a Cadernos de Campo - Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (PPGAS-USP) a publicar o trabalho (Artigo, Ensaio, Resenha,Tradução, Entrevista, Arte ou Informe) de minha autoria/responsabilidade assim como me responsabilizo pelo uso das imagens, caso seja aceito para a publicação.
Eu concordo a presente declaração como expressão absoluta da verdade, também me responsabilizo integralmente, em meu nome e de eventuais co-autores, pelo material apresentado.
Atesto o ineditismo do trabalho enviado.
Como Citar
Dados de financiamento
-
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Números do Financiamento 001 -
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia

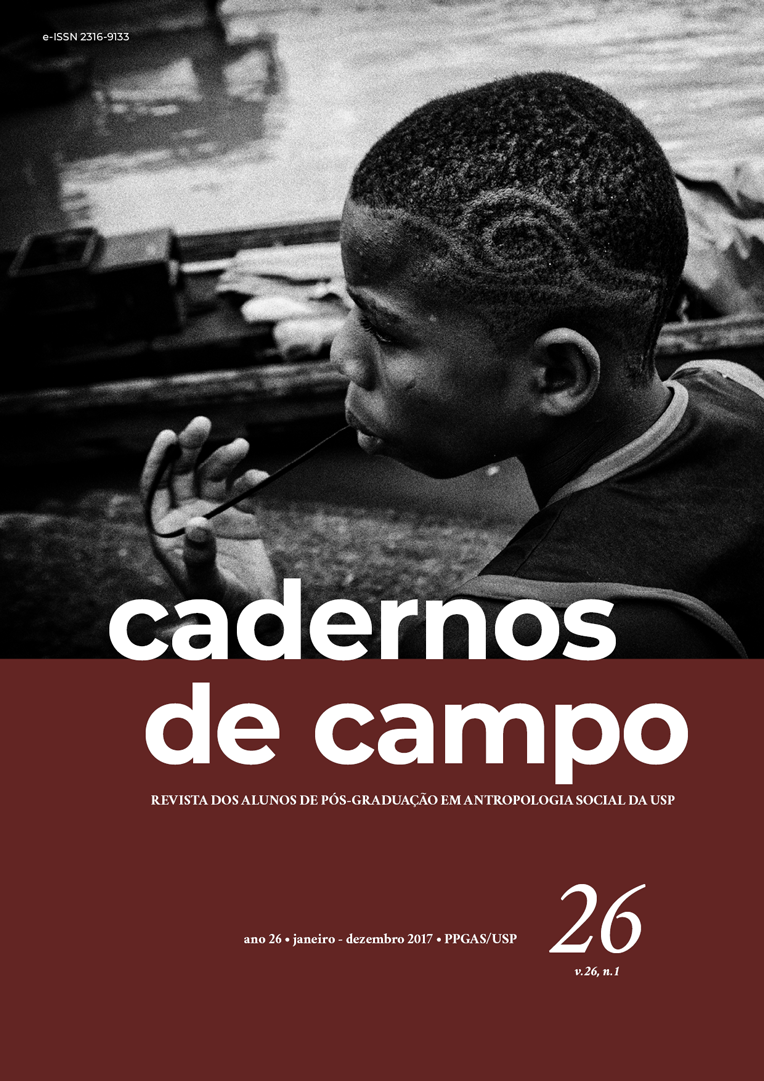



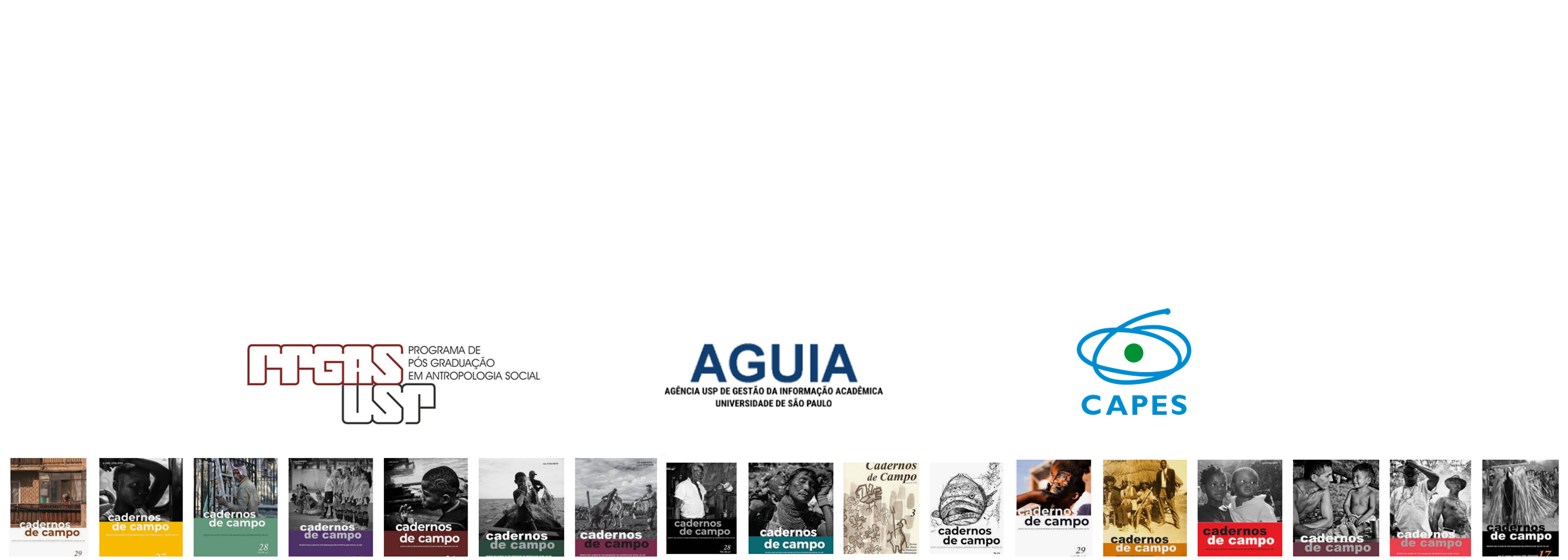 eISSN: 2316-9133
eISSN: 2316-9133